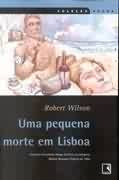Contos de fadas
Contos de fadasEdição de Maria Tatar (Jorge Zahar Editor, 2004)
Minha sobrinha linda e espertíssima não tem nem cinco meses de vida e eu já sonho com o dia em que vou poder ler pra ela - e com ela - as mais variadas histórias. Na verdade, já comecei: mesmo me sentindo a criatura mais nonsense e abobalhada do planeta, coloquei-a no colo outro dia e, com ela quietinha, li o
Guess how much I love you inteirinho em voz alta, interpretando as falas do Big Nut e do Little Nutbrown Hare. Terminei chorando de emoção e com a certeza de que ela havia, sim, prestado atenção (imagina se ela ficou quietinha só porque estava caindo de sono!).
Essa linda edição de
Contos de fadas me foi dada de presente por uma querida e talentosíssima amiga, criatura de bom gosto incrível que, não à toa, adora a Mulher-Maravilha (eu fico impressionada ao ver como ela se desdobra nas funções de mulher, tia, filha, dona-de-casa, cozinheira e profissional de extrema competência; nunca tive, não tenho e duvido que algum dia tenha esse pique). O bacana do livro é reunir os contos tradicionais de vários autores, principalmente Perrault, Andersen e os Irmãos Grimm, e incrementá-los com ilustrações que atravessaram o tempo, desde o século 19; pena que não sejam coloridas nem tenham ganhado mais espaço. Também acompanham cada história uma introdução e notas informativas, destinadas aos leitores adultos - parece mesmo o tipo de livro que se pega para ler às sobrinhas em estado de sonolência.
Meu primeiro contato com contos de fadas aconteceu, acredito, no
Mundo da Criança, misturado com o Monteiro Lobato infantil (nunca mais encontrei a história de Rosa Branca e Rosa Vermelha!). E nos desenhos da Disney. Lembro do meu padrinho levando a mim e a meu irmão pra ver
Branca de Neve no finado Cine Astor; estava tão lotado que tivemos de sentar no chão. Também me lembro vagamente da minha mãe vendo
Cinderela com a gente, mas não sei se era teatro ou cinema. De qualquer forma, minha mãe ficou cantando a música da fada-madrinha por dias.
Contos de fadas traz desfechos diferentes para as minhas duas histórias preferidas. Maria Tatar escolheu a versão dos Grimm para
A bela adormecida; no original de Perrault, que só conheci já adulta, o foram-felizes-para-sempre demorou mais para acontecer: antes disso, a princesa teve que lidar com a extrema maldade da sogra, que a certa altura tem vontade de comer os netinhos assados. E nunca tinha lido o final que ela relata em
A pequena sereia. Em meu livro com os contos de Andersen, a sereia-transformada-em-gente não consegue matar o príncipe e, por causa do acordo feito com a bruxa-do-mar, acaba virando espuma. End of story. Maria Tatar endossa essa versão, mas acrescenta nuns parágrafos finais nova transformação: a pobrezinha vira um "ser do ar" e vai passar o resto de seus dias fazendo boas ações para tentar alcançar a imortalidade.
É claro que, com o tempo, e de acordo com o relato, todas essas histórias passaram por mudanças - o próprio Disney fez o que quis com algumas tramas, como
Pinóquio e
A pequena sereia. Mas eu não sei até que ponto é saudável forçar o final feliz ou amenizar o sofrimento em cada uma delas.
 The Beatles Anthology
The Beatles Anthology










 Hospital
Hospital
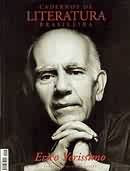







 A misteriosa chama da Rainha Loana
A misteriosa chama da Rainha Loana