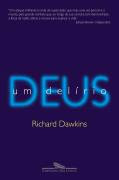Quase tudo
Quase tudoDanuza Leão (Companhia das Letras, 2005)
É preciso muita coragem pra confessar o desconforto diante de um neto porque ele faz lembrar o filho que morreu. Pra admitir que, de repente, ver o neto se transformou numa tortura. Que a alegria de ter o neto por perto não compensava a lembrança do filho morto. E Danuza Leão faz tudo isso neste livro, que só por essa história já valeria como prova de bravura - nenhum ser humano fraco conseguiria admitir isso em público. O Quase tudo do título se justifica: para tristeza do leitor, não cabe num único livro a vida toda dessa mulher, que atravessou as últimas cinco décadas da história do país na posição privilegiada tanto de protagonista quanto de espectadora. Pra ficar só nuns poucos: Danuza é irmã de Nara Leão, foi top model internacional numa época em que isso era só para poucas e boas européias, casou-se com o jornalista Samuel Wainer, depois com o compositor Antônio Maria, depois com o também jornalista Renato Machado. Sua filha, Pinky Wainer, é referência nas artes gráficas brasileiras, e uma das netas, Rita, desponta como estilista.
Ainda por cima escreve bem, a danada. Adoro as crônicas alto-astral que ela escreve aos domingos, na Folha (ela só parece sair do sério quando fala da situação desmazelada do país). Nessas suas memórias, o tom é o mesmo: sempre positivo, mesmo na hora das adversidades. Danuza esconde o jogo muitas vezes, é claro (não dá pra entender como, passando por tanta fase sem dinheiro, continuavam freqüentes as viagens e temporadas em Paris), mas não faz diferença. Importa é o que ela abre, o que ela diz, e a maneira como conta histórias marcantes em sua vida - a doença fatal da irmã, a morte de Wainer e a de Maria, o acidente que tirou a vida de seu filho. Resta torcer para que, a exemplo da atriz Isabella Rossellini (que lançou um livro de memórias chamado Some of me, na esperança de depois lançar More of me e All of me), Danuza também tenha planos de escrever um Mais de tudo.







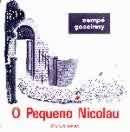



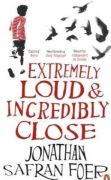





 Minhas receitas da Provence
Minhas receitas da Provence